30
de novembro de 2014 | N° 17999
CÓDIGO
DAVID | David Coimbra
Os negros da
América
Vi
algumas das manifestações dos americanos contra a decisão do Grande Júri de
Missouri de não processar o policial que matou o rapaz negro em Ferguson. Mais
de mil negros e brancos foram às ruas em protesto, aqui em Boston, e outros
milhares fizeram o mesmo em dezenas de cidades do Atlântico ao Pacífico. Os
Estados Unidos são uma federação de fato e de direito, mas são também uma nação
única e compacta em determinadas discussões.
Essa
cidadezinha, Ferguson, está atarraxada quase no centro dos Estados Unidos, à
margem do Mississippi, o grande rio que corta o país de Norte a Sul, que os
índios chamavam de o Pai das Águas. É um lugar pequeno, de pouco mais de 20 mil
habitantes, mas que mobilizou todo o país.
O
que me leva a pensar: Brasil e Estados Unidos são dois irmãos gêmeos
completamente diferentes. Vou me ater à questão dos negros. Brasil e Estados
Unidos, dois gigantes territoriais da América, receberam escravos africanos e
os mantiveram em cativeiro por cerca de três séculos. Isso marcou terrivelmente
os dois países, porque criou uma classe inferior de cidadãos. Os descendentes
dos africanos ainda lutam para se libertar de tudo o que significou a
escravidão ao norte e ao sul do continente.
Mas
aí começam as sutis e profundas diferenças. Mora na filosofia, como diria
Caetano. Os ingleses fundaram os Estados Unidos em nome da liberdade. Manter
homens sob escravidão era contraditório. E por que os africanos eram
escravizados? Porque eram negros, apenas por isso. Os 15 Estados do Sul que
queriam continuar com a sua “instituição peculiar”, como a chamavam,
justificavam-na com uma série de teorias racistas que asseguravam que negros
eram inferiores aos brancos. Os negros seriam menos humanos, seriam mais
animais.
Não
se sustentou, é claro. A falta de base filosófica, aliada, é óbvio, a toda a
conjuntura econômica, que colocava em oposição o Norte industrializado e livre
ao Sul agrário e escravagista, levou à Guerra de Secessão de 1860. Essa foi
talvez a maior guerra civil de todos os tempos: mais de 620 mil homens
morreram.
O
sangue de 620 mil homens lavou grande parte do pecado americano pela
escravidão. Não há nada de transcendental nisso. O que estou dizendo é que a
Guerra Civil expôs o Mal. É como o nazismo na Alemanha. O nazismo acabou há 70
anos, mas os alemães purgam esse pecado todos os dias, desde aquela época, e o
fazem através de filmes, livros, debates, monumentos e museus que lembram o
Holocausto.
Minha
culpa, minha culpa, minha máxima culpa! A Bíblia diz que, se não há
arrependimento, não há perdão. E aí, mais uma vez, não estou sendo
transcendental, não estou sendo religioso, estou sendo racional. Mora na
filosofia: essa é uma sentença sábia da Bíblia, porque, para haver arrependimento,
é preciso haver contrição e, para haver contrição, é preciso haver dor.
A
escravidão causou dor aos Estados Unidos. Os americanos sangraram e sofreram.
Isso fez com que a luta dos negros se tornasse nacional e, finalmente,
constitucional, com a conquista dos direitos civis, nos anos 60 do século
passado.
A
escravidão nunca doeu no Brasil. Nunca.
Há
mais descendentes de escravos no Brasil do que nos Estados Unidos, mas talvez
haja mais negros nos Estados Unidos do que no Brasil. Nos Estados Unidos, os
negros são 12% da população. No Brasil, quantos seriam “100% negros”, como está
escrito naquelas camisetas de praia? É uma parcela mínima da população. No
Brasil, nos misturamos. Alegremente nos misturamos. Quantos serão os
decendentes de escravos? Uns 40%? Metade da população? Muito mais do que isso?
Impossível saber. Somos todos um pouco negros no Brasil. E também todos um
pouco brancos e todos um pouco de tudo.
Os
descendentes dos escravos, no Brasil, não são identificados pela cor da pele.
Porque há, no Brasil, os Friedenreich, filhos de imigrantes alemães com a
lavadeira negra, meninos bons de bola, com olhos azuis e carapinha no cabelo.
Há, no Brasil, mulatos disfarçados como Machado de Assis, brancos que queriam
ser negros, como Vinícius, os olhos verdes da mulata, o cabelo loiro do sarará.
Nós
somos mestiços. Nós somos todos mais ou menos.
Entre
nós, os descendentes dos escravos são os pobres.
Há
igualdade entre os pobres no Brasil: todos são, democraticamente, desgraçados.
Pobres loiros, pobre pretos, pobres pardos, pobres são pobres e ponto.
Assim,
a questão racial ficou diluída na pobreza comum. De quem é a culpa pelos mais
de três séculos de escravidão? De ninguém? Ou de todos?
Há
racismo no Brasil, é evidente que há, em toda parte do mundo há racismo e
aversão às diferenças, só que, no Brasil, a pobreza não tem cor. Nos Estados
Unidos tem, e é negra.
Americanos
e brasileiros, pobres e ricos, negros e brancos, somos todos seres humanos. O
Brasil nunca discutiu o que fez com os seres humanos negros na maior parte da
sua história. O Brasil nunca admitiu seu crime. Nunca sofreu. Nunca sentiu
culpa. E a culpa é nossa. Nossa máxima culpa?

 : *♥*:
: *♥*:

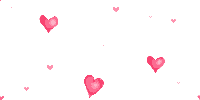 :
:

 Amor é construção,um
Amor é construção,um



 O presente perfeito deveria saltar aos olhos como um
grande pacote vermelho sobre um jardim coberto de neve inconfundível,
inescapável. Todo nosso carinho condensado em um único objeto, que por acaso
custaria exatamente o que podemos pagar e nem um centavo a mais. Nenhuma
hesitação, fila ou mesmo uma data compulsória determinando o dia e o motivo da
entrega. Um presente tão espontâneo e único quanto o afeto que inspirou a vontade
de presentear.
O presente perfeito deveria saltar aos olhos como um
grande pacote vermelho sobre um jardim coberto de neve inconfundível,
inescapável. Todo nosso carinho condensado em um único objeto, que por acaso
custaria exatamente o que podemos pagar e nem um centavo a mais. Nenhuma
hesitação, fila ou mesmo uma data compulsória determinando o dia e o motivo da
entrega. Um presente tão espontâneo e único quanto o afeto que inspirou a vontade
de presentear.
 Se você é um ogro machista e homofóbico, você tem
representantes no Congresso, na imprensa, tem vários amigos no clube. Se você é
LGBT, você tem representantes no Congresso, na imprensa, tem vários clubes de
amigos(as). Agora, se você está no meio do caminho, se é apenas um homem
sensível lutando para ver respeitados certos direitos básicos de sua pacata
heterossexualidade, não tem político a quem pedir socorro e periga não emplacar
sequer reclamação na seção de cartas do jornal.
Se você é um ogro machista e homofóbico, você tem
representantes no Congresso, na imprensa, tem vários amigos no clube. Se você é
LGBT, você tem representantes no Congresso, na imprensa, tem vários clubes de
amigos(as). Agora, se você está no meio do caminho, se é apenas um homem
sensível lutando para ver respeitados certos direitos básicos de sua pacata
heterossexualidade, não tem político a quem pedir socorro e periga não emplacar
sequer reclamação na seção de cartas do jornal.




 Os ingênuos podem supor que a alegria que sentimos ao
fazer o que fazemos depende da importância que os outros dão ao que é feito.
Felizmente, não é assim, porque senão, aos que fazem as tarefas chamadas
menores, só restaria a frustrante sensação da insignificância. E com ela, o
sentimento de inferioridade.
Os ingênuos podem supor que a alegria que sentimos ao
fazer o que fazemos depende da importância que os outros dão ao que é feito.
Felizmente, não é assim, porque senão, aos que fazem as tarefas chamadas
menores, só restaria a frustrante sensação da insignificância. E com ela, o
sentimento de inferioridade.


